
Assim como ir a um show de Sonny Rollins envolve uma série de pré-expectativas, seja você profundo fã ou curioso, assitir à ópera-rap de Kanye é querer ultrapassar desconfianças. Ainda mais quando, olhando a escalação do festival, conclui-se que o rapper ocupa um lugar de destaque que em outros anos foi de bandas como Strokes, Public Enemy, Arctic Monkeys, White Stripes, etc. Talvez o rapper até venda mais discos e tenha mais clipes, mas no Brasil o apelo dele era uma incógnita - ainda mais pela falta de hits.
O show começa com Stronger, ainda sem o rapper no palco. A história é que uma banda toca ao vivo, fora de vista, e há quem entre na sala de imprensa dizendo que não viu ninguém, só instrumentos. Com as luzes apagadas, a não ser pelo telão onde estrelas brilham, dá pra ver um tênis que reflete entrar, deitar e aguardar a deixa. Só esse primeiro momento mostra bem a coreografia que vai se seguir por mais uma hora e tanto (uma hora e cinquenta contando com o bis).
Kanye ocupa sozinho o palco com um olho na sincronia dos efeitos especiais e outro no público. Quando é pra sair fumaça de trás, ele olha pra trás. Quando é pra levantar uma chama de cada lado, ele fica esperando a da esquerda subir. Não sobe. Se não olhasse tanto, talvez até desse pra achar a assimetria interessante.
Na saga rap/fic-ci do americano, tudo indica que há muito de conceito por trás do encademanento de atuações canastras e músicas. E conceito é sempre uma coisa que bate em cada um de formas distintas. Mas o rap de Kanye, apesar de tantos graves até por cima de backings e outros toques, descarta o improviso e a espontaneidade. A galera até responde bem a uma ou outra música com partes mais marcadas e refrães (ou algo assemelhado).
Mas não é uma evolução da música negra, de cantos e contra-cantos, respostas em coro, tema-solo-volta ao tema. A ficção científica tampouco tem qualquer metáfora sobre o presente a partir de projeções futurísticas. Fica tudo certo pelo raso, mesmo.
Compensar tal déficit é até possível - quando todos cantam de braço pra cima dá, sim, pra deixar de ser chato e rigoroso. Mas os personagens da ópera de Kanye são muito fracos. Um dragão/dinossauro de festa infantil que aparece, logo depois de Flashin Lights, para engolir o herói é o aviso de que é hora de ir buscar a segunda cerveja. E a nave oferecida que vira uma projeção de gostosa para satisfazer a solidão do astro é o aviso de que uma terceira cerveja não é má idéia.
Ainda assim, diante do telão de paisagens com cores puxadas no photoshop, e suando em bicas debaixo de casacos de figurino (um vestido desde o início e outro na cintura até mais da metade do show), Kanye praticamente não pára. E, entre um gole e outro, dá pra sair e entrar de novo no show com uma ou outra levada mais ganchuda. Se fosse chamado só de musical, em vez de ópera, no entanto, a negociação artista-público estaria mais clara e justa.
No bis, que em São Paulo não rolou (assim como na véspera, o que talvez indique que pro mal e pro bem, o Tim é mesmo carioca), a importância e o prejuízo da coreografia de Kanye ficam ainda mais claros. Quando ele volta para o palco e manda American Boy mais uma ou duas músicas, sem parafernália a não ser uma iluminação feita mais ou menos ali na hora, o carisma precisa se sobressair. E se sobressai, de fato.
Assistir um show envolve observar trocas de olhares entre baixo e bateria, um guitarrista que marca a entrada com uma batida de pé, enfim - mil detalhes que costumam ser chamados por aí de energia, de vaibe. A música negra (e o rap, afinal) é uma das maiores inventoras disso, e a ficção científica devia funcionar como acessório de luxo para uma apresentação assim. Ao optar por ser exclusivamente ele o elemento de cena, com um cenário sem charme, a responsabilidade dispara alto demais.
Em uma longa estrada para o êxito de uma auto-proclamada ópera-rap solo, o cara se achar fodão é tão importante quanto o cara ser fodão. Kanye fica um pouco adiante do meio do caminho. E a culpa é só dele.
crédito da foto:Maurício Val
- Tags: coreografia, improviso, kanye west, ópera-rap, stronger, tim festival, timfa
2 comentários para “Mesmo Ego-gerado”
Faça seu Comentário


MTV Apresenta Casuarina - Bloco 3
Fotos:: Paralamas no Vivo Rio (17/10/2009)
Trailer de "It might get loud"
Ser carioca é outra parada
Lúcio Maia & Danilo Caymmi - "Só danço samba"
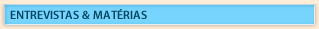
Entrevista: Santiago Barrionuevo
Conversa com o vocalista do El Mató A Un Policia Motorizado (ARG)
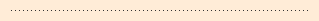
Entrevista: Roberto Berliner
Costurando pra fora 1
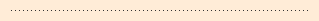
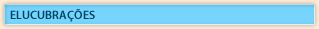
Entre o gueto e os grandes palcos
Casuarina :: Turnê é a oportunidade de ir além da Lapa
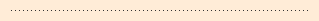
Reflexões porteñas 2
Sobre rompimentos estéticos, tragédias, tangos, Dapieve e Fito Paez
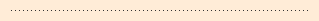
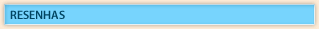
A Noite Dos Ciganos
Shows: Gogol Bordello e Super Furry Animals no Festival Indie Rock
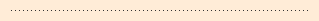
Naná e a Tecnologia
Show: Blind Date, mais Raul Mourão e Leo Domingues no Casa Grande
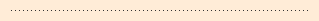
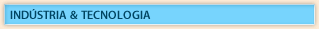
Momo Vai a América
Turnê tem 24 datas fechadas nos EUA
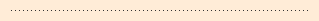
Um novo modelo de plano de marketing
Coldplay lança álbum ao vivo de graça na web
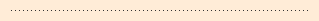
© SOBREMUSICA 2005 - 2008
 Reprodução permitida após consulta
Reprodução permitida após consultaOs textos desta página nem sempre são revisados.











SOBREMUSICA | Recortes de uma Nova York
outubro 25th, 2008 at 14:03
[...] Bernardo falou (muito bem) aí embaixo quase tudo que eu acho importante sobre o pouco que vi show do Kanye West, do qual só vi as cinco [...]
SOBREMUSICA | Considerações Finais
outubro 30th, 2008 at 18:09
[...] das fotos, em ordem: Gilvan de Souza, Nina Lima e Gilvan de Souza. nossos textos: sonny rollins, kanye west, national/mgmt, neon/klaxons, camelo/antunes e gogol. Tags: avaliação, blog, consideração [...]